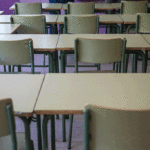Por muitos anos, Miguel Rodríguez Carnota foi mestre no rural. Ao chegar a umha vila marinheira para trabalhar num liceu, apesar de seguir lecionando as aulas em galego, a realidade linguística mudou: “De vez em quando, aparecia algum rapaz ou rapariga solta falando galego, sobretodo rapazes” explica. Esta singularidade ‑falar galego na Galiza- chamou a sua atençom quando observou que esse alunado tardava “um ou dous anos” em adotar a língua do resto da rapaziada, o espanhol. Além dos ‘rituais’ ‑as aulas de galego, o Dia das Letras ou os magustos- o liceu era um espaço hostil para a utilizaçom do idioma. Esta é a premissa de que parte a tese sobre a substituçom lingüística de Miguel, em versom divulgativa no livro ‘Lingua, poder e adolescencia’.
Na tese contas que as adolescentes galegofalantes encaram situaçons hostis com outras adolescentes ao falar em galego. Que tipo de respostas encontrache?
Essa é a parte mais dolorosa. Nas entrevistas, as informantes diziam que havia algumhas respostas hostis do professorado, mas que eram muito mais habituais por parte do alunado. Há ataques nos recreios, fora do liceu, desconsideraçons ou brincadeiras que vam moldando a consideraçom da língua. Estas pessoas vem-se impossibilitadas para empregar o galego, embora as suas interlocutoras sim o entendem e podem falá-lo perfeitamente.
Porém, a paisagem linguística dos centros é maioritária em galego: cartazes, documentos… É o galego umha língua artificial nestes contextos?
O centro é um microcosmos, porque está todo em mais dum 80% em galego. É um dos paradoxos, que neste ambiente em específico se crie esse ambiente que impeda o uso normal da língua. Se baixa um marciano nom o entende, e até é difícil para nós entender. Toma-se o galego como língua de ritual para utilizar só para certas cousas. Nos últimos decénios ganhou esse espaço, o qual para nada implica a sua normalizaçom social, mas nem sequer fai com que o galego poda falar-se com normalidade. Isto vemo-lo como normal mas revela umha realidade muito complexa e enrevesada. Segundo as informantes, muitas vezes nem lembravam em que idioma estavam os cartazes da parede.
“Há muita hipocrisia. Estám convencendo-nos de que temos certas liberdades, mas quando analisamos os microprocessos vemos que a liberdade lingüística nom existe”
E isso que era unha mostra de alunado com consciência sobre temas linguísticos, nom é?
Claro, nom era representativa do alunado, só era umha mostra de rapazes e raparigas que sofrêrom falando galego ou que quigérom falá-lo e nom pudérom.
A que chamavam ‘espaços seguros’?
Para elas, som espaços tranquilizadores e livres e definiam-nos com diferentes adjetivos que contrastam com a hostilidade que há fora. Por exemplo, as redes sociais fôrom precursoras como espaços seguros, ou também associaçons de galegofalantes, onde concorrem com outras pessoas que também falam galego… mas é raríssimo, raríssimo, raríssimo que alguém tenha que buscar um lugar seguro para falar a língua do seu país, e mais quando essa língua é oficial. Isto é umha questom muito específica do galego, a nível global.
Qual é a reflexom que fas tu ante esta particularidade?
Pois que há muita hipocrisia. Estám convencendo-nos de que temos certas liberdades, mas quando analisamos microprocessos deste tipo, vemos que essas liberdades, como neste caso a liberdade linguística, nom existem. Para este segmento de populaçom, nom existe o bilinguismo cordial nem essa liberdade, por muito que legalmente sim a posuam. Há microprocessos cotidianos, a própria realidade, que influem muito mais nas nossas liberdades do que o discurso oficial. Afinal é umha contradiçom que também têm as próprias informantes: “No licéu ninguém me proibia falar galego, mas nom o fazia por isto, isto e isto”. Explicavam muitas razons, mas a realidade é que nom podiam falar galego no liceu. Nom fai falta umha figura que o proíba, já existe um corpo social que o fai.
A discriminaçom ou violência exercida por motivaçons linguísticas nom é definida claramente, como sim podem sê-lo outros tipos de violências e discriminaçons. Pensas que há que definir isto de forma oficial?
Sim, esta é umha das conclusons mais evidentes que surgírom mais rápido na investigaçom. As pessoas informantes tinham muita vontade de contar o que passárom e os ataques que sofrêrom por falar em galego. Mas nom sabiam como definir esses ataques, enquanto sim saberiam definir um ataque machista ou xenófobo. Elas davam muitas voltas a isso, diziam “mexem com nós porque falamos galego”, “foi assim toda a vida”, “som cousas da cultura da gente”… Falta muito por definir deste ataque galegófobo e deste ataque glotófobo, e isto deveria ser estudado, recolhido, e nomeado para desestigmatizá-lo.
Até onde pode chegar o neofalantismo? Pode reverter todos estes processos?
É lógico pensar que quem pode salvar o galego som as pessoas neofalantes, porque as falantes tradicionais som cada vez menos. Isto é uma cousa que se passou muitas veces; eu tenho 63 anos e som neofalante, e muitos dos grandes literatos e literatas galegas também o fôrom. Temos que tender mais a fazer políticas focando nestes processos e menos políticas estruturais, porque som afinal estes microprocessos que sucedem no plano da realidade os que nom ficam recolhidos oficialmente. Seguimos com as ideas da liberdade linguística, com a escolha da língua e todo isso… Fai falta umha mudança séria, e nom só porque o diga a minha investigacçom. Também o di, por exemplo, o estudo do CEIP Agro do Muíño do Seminario de Sociolingüística da RAG. Eu cada vez desconfio mais dos inquéritos e mesmo dos mapas sociolinguísticos. Haveria que complementar estes estudos com investigaçons baseadas na observaçom da realidade, que tenha em conta as opinions e as subjetividades das pessoas.
Algum acréscimo mais?
Que para nada quero ser pessimista sobre o futuro da língua galega, nem soar catastrofista. Fai falta muita autoconsciência, mas nom podemos ser tam idiotas como para deixar morrer a nossa língua assim sem mais nem menos.